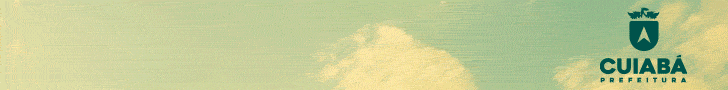A promulgação da Lei nº 15.240/2025, que inclui expressamente o abandono afetivo como causa de responsabilização civil no âmbito das relações familiares, reacendeu um antigo debate sobre os contornos do dever de cuidado e o papel do Estado na tutela das emoções. O tema, ainda que envolto em grande sensibilidade social, exige reflexão técnica, porque revela o desafio de traduzir sentimentos em categorias jurídicas sem diluir a essência do afeto na rigidez da norma.
Historicamente, o abandono afetivo foi construído pela jurisprudência e pela doutrina como uma hipótese excepcional de responsabilidade civil derivada do descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar. O marco mais emblemático foi o julgamento do Recurso Especial nº 1.159.242/SP, no qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de indenização por dano moral em razão da omissão dolosa do genitor quanto ao dever de cuidado. A partir dali, abriu-se espaço para compreender o afeto não como mera dimensão moral, mas como um valor jurídico que informa a própria concepção contemporânea de família.
A nova lei, ao positivá-lo, transforma em norma o que já vinha alvo de discussão pela jurisprudência e pela doutrina: o reconhecimento da afetividade como princípio estruturante das relações familiares e fundamento jurídico do dever de cuidado. A Lei nº 15.240/2025 introduziu importantes alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente ao dispor que a assistência afetiva integra o núcleo do poder familiar, ao lado da assistência material.
O novo parágrafo único do artigo 5º do ECA estabelece que “considera-se conduta ilícita, sujeita à reparação de danos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, a ação ou omissão que ofenda direito fundamental de criança ou de adolescente previsto nesta Lei, incluídos os casos de abandono afetivo”. Já o § 2º do artigo 4º impõe aos pais o dever de prestar assistência afetiva por meio do convívio, da presença e da orientação moral, reconhecendo juridicamente que o cuidado emocional é dimensão indissociável da parentalidade responsável.
Com isso, o legislador reafirma que o amor pode não ser exigível, mas o cuidado é. E quando sua ausência gera sofrimento mensurável, o Direito não pode se manter inerte.
Sob essa ótica, a norma representa um avanço civilizatório. Ao responsabilizar juridicamente o descuido afetivo, ela reforça a centralidade da função parental como dever ético e jurídico de cuidado integral, transcendendo a mera obrigação material. A Constituição Federal, em seu artigo 227, já impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o desenvolvimento físico, moral e psicológico. A lei apenas concretiza esse mandamento, alinhando-se à doutrina da proteção integral e ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é, em última análise, o núcleo axiológico do Direito das Famílias.
Por outro lado, a lei também desperta inquietações legítimas. A afetividade, ainda que juridicamente reconhecida, não se submete com facilidade à lógica da coação estatal. O risco da judicialização das emoções é o de transformar o foro íntimo em litígio, e o sentimento em prova pericial. O amor ou sua ausência não é quantificável, e o Judiciário, por mais sensível que se pretenda, não tem como restituir laços rompidos nem substituir a experiência do cuidado com condenações pecuniárias.
Além disso, há o temor de que a nova previsão estimule demandas pautadas em ressentimentos, esvaziando o caráter pedagógico e reparador que a responsabilidade civil deveria ter. A dor do abandono é real e legítima, mas a reparação jurídica não pode se converter em instrumento de vingança emocional ou em extensão das feridas de relações fracassadas. O Direito deve proteger o afeto, não administrá-lo.
A lei, portanto, exige do intérprete equilíbrio. Não se trata de punir a falta de amor, sentimento que escapa à coerção estatal, mas de reconhecer que o descuido consciente e reiterado, quando gera dano concreto ao desenvolvimento emocional de um filho, é passível de responsabilização. A distinção entre o afeto impossível e o cuidado negligente é sutil, mas essencial: o primeiro pertence ao domínio do coração; o segundo, ao campo da ética e do dever jurídico.
Nesse contexto, a atuação do Judiciário precisará ser orientada por critérios objetivos, apoiando-se em provas técnicas, laudos psicológicos e análise contextual, sob pena de banalizar o instituto. O abandono afetivo não pode ser presumido a partir do distanciamento físico ou da falta de convivência eventual; deve decorrer de conduta omissiva injustificada, de natureza dolosa, e de dano efetivamente comprovado. Do contrário, corre-se o risco de transformar a afetividade em moeda jurídica e de diluir o princípio da segurança jurídica em meio à subjetividade das relações familiares.
O mérito da Lei nº 15.240/2025 está em trazer à tona a responsabilidade afetiva como dever socialmente exigível, reafirmando que vínculos familiares não se sustentam apenas na biologia, mas no compromisso cotidiano de cuidado e presença. Contudo, seu desafio está em evitar que a norma se converta em instrumento de ressentimento, substituindo a reparação simbólica pelo cálculo indenizatório.
Como ensina Clarice Lispector, “o amor é tão vasto que não cabe em si mesmo”. O Direito, ao tentar contê-lo, precisa fazê-lo com delicadeza, reconhecendo seus limites e respeitando sua essência. O afeto é matéria viva, que resiste à tipificação, mas não pode ser ignorado por um ordenamento que se propõe a proteger pessoas em suas dimensões mais humanas.
A Lei nº 15.240/2025 marca, portanto, um ponto de inflexão: entre o reconhecimento jurídico do afeto e os limites da sua juridicização. Resta ao intérprete, magistrado, advogado e sociedade, fazer dela um instrumento de proteção, e não de punição; de reconstrução de vínculos, e não de mera reparação material. Porque, afinal, o que se busca não é indenizar o amor perdido, mas reafirmar o dever de cuidar, estar e permanecer, fundamentos sobre os quais se constrói a verdadeira família.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
BRASIL. Lei nº 15.240, de 2025. Dispõe sobre a responsabilidade civil por abandono afetivo no âmbito das relações familiares.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). REsp 1.159.242/SP. Relator: Min. Nancy Andrighi. Julgado em 24 abr. 2012.DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.LISPECTOR, Clarice. A Descoberta do Mundo. 6. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
Vitória F. Martins Bruno, advogada no Escritório Simões Santos, Nascimento & Associados Sociedade de Advocacia, Pós-graduanda em Atuação Prática das Famílias e Sucessões.
Cibeli Simões Santos, advogada, Sócia- fundadora do Escritório Simões Santos, Nascimento & Associados Sociedade de Advocacia; Especialista em Direito Tributário pela UNIDERP-SP; especialista em Linguística pela UNEMAT; especialista em Direito Civil Contemporâneo pela UFMT; especialista em Direito de Família pela Universidade de Coimbra; Mestra em Linguística pela Universidade do Estado de Mato Grosso; Doutora em Direito pela Universidade de Marília- SP; Conselheira estadual da OAB/MT triênio 2019/2021; Presidente da 3ª Subseção de Cáceres- OABMT, triênio 2022/2024 e 2025/2027. Autora do Livro “Propriedade Privada e a Função social Constitucional: o complexo equilíbrio entre Meio Ambiente e Agronegócio na Ordem Econômica Brasileira”.
Angela Thainara J. Lopes, advogada no Escritório Simões Santos, Nascimento & Associados Sociedade de Advocacia; Pós-graduanda em Direito Privado e Pós-graduanda em Direito das Famílias e Sucessões pelo Instituto Legale Educacional S.A.